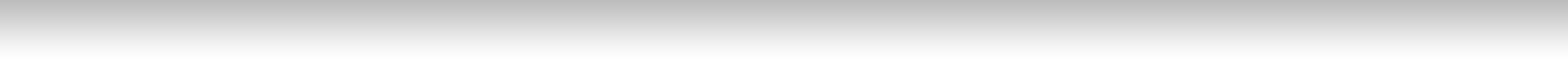o botão preto tem muda a voz da campainha
2008
A rua discreta ao fim da tarde, num crepúsculo prematuro feito de nuvens e aguaceiros acolhe a cave esquerda do número trinta e dois. Aquela que dá para o quintal das traseiras com a nespereira e a erva alta.
Desço. A escada cheira a humidade. A madeira antiga lembra os inquilinos que já morreram. A memória dos mortos persiste no presente como se por ali andassem ocupando as mesmas divisões na rotina diária de sempre.
O pequeno botão preto colocado na ombreira da porta tem muda a voz da campainha. A luz fraca da escada sem abajur, envelhece ainda mais tudo ao seu redor. Bato à porta com os nós dos dedos. Alguém abre mas não vejo quem é. Está mais gente em casa. Não se vê ninguém. Os olhos habituam-se ao escuro. Uma vela aqui outra ali vai mostrando os vultos sentados nos sofás e no chão. Pouco a pouco apercebo-me dos sussurros e das conversas entre dentes... Uma chama de isqueiro acende um cigarro. Os rostos sobressaem da escuridão como morcegos cegos, a conversa torna-se alta e clara naquele breve momento. O borrão do cigarro torna-se incandescente e tudo retorna à calma com a baforada de fumo. Tropeço em alguém. Não me desvio a tempo de uma silhueta parada em pé no negrume. Faço-a entornar parte do copo sobre mim. Uma voz feminina pede-me desculpa numa tristeza profunda e apaixonante. Sacudo a mão mas o cheiro a álcool permanece invadindo-me as narinas. Sinto saudades do sabor do álcool e da morte lenta de um cigarro. Abre-se uma porta ao fundo do corredor depois do fim da sala. Foge uma luz branca lá de dentro. Fogem vozes, gargalhadas, tilintar de garrafas. Dirijo-me apressadamente aproveitando a réstia de luz enquanto a porta se fecha novamente. Alcanço-a quando esta se volta novamente a abrir. Peço um cigarro à figura em contra luz que sai. Lume, já agora. Entro. Semi cerro os olhos encadeado pela luz fluorescente que mostra tudo de forma tão crua. As vozes atropelam-se. Coloco o cigarro no canto da boca inclinando a cabeça para trás franzindo o sobrolho para evitar o fumo nos olhos ficando com as duas mãos livres. Agarro num copo quase limpo em cima da bancada e despejo-lhe o liquido de uma garrafa que me parece whisky. Cheiro-o confirmando que é. Levo o copo à boca sentindo o sabor puro do álcool que me arde por dentro. Minimizo o ardor travando o fumo do cigarro enchendo os pulmões. Atesto o copo e saio dali. De novo a escuridão. Fico quieto junto a uma parede bebendo e fumando enquanto os olhos se adaptam. Reparo agora na música que toca. Faltava isto. Este é o meu interior. Tenho as pernas cansadas e os pés dentro das botas gritam liberdade. À medida que o copo vai ficando vazio, as dores diminuem. Preciso de outro cigarro. Aventuro-me na penumbra novamente. Quem me dera encontrar outra vez a silhueta feminina. Quem me dera que ela fumasse. Quem me dera que me voltasse a pedir desculpa...
Junto a uma vela colocada em cima de uma pequena mesa está uma garrafa quase cheia segura por uma mão cujo braço se perde no escuro do sofá. Peço que me encha o copo depois de beber de um só trago o que ainda restava no fundo. Acedeu prontamente. De copo cheio parti dentro de mim à procura dela. Tornava-se agora mais fácil caminhar no escuro. A fluidez cambaleante do álcool deixava-me mais livre. Onde estaria? Sentada num canto, sem dúvida. Ou teria ido embora? Será que eu voltaria a ouvir a sua voz?
Desisto. Aqui dentro não está. Tento encontrar a saída das traseiras. À medida que ando os cheiros vão variando subtilmente como se a casa fosse um ser vivo que se mexe muito devagar. Cada recanto seu é uma parte de nós. Cada um de nós ou cada grupo que conversa ou bebe ou fuma em conjunto, é um órgão cuja função desconhecemos. Talvez um rim, um glândula viscosa, um pulmão... A casa respira. O movimento de pessoas que corre na correnteza das divisões cada vez mais cheias é o sangue contido dentro de si. Finalmente a porta que dá para o mundo. Mal se percebe a luz das traseiras a passar pelas frinchas. A porta abre-se e saio. Sou o sangue derramado da casa numa ferida que eu próprio abri. Fecho a porta atrás de mim estancando a hemorragia à flor da pele. Pouso o copo em cima de um vaso e acendo parte de um cigarro que encontrei ao lado de um isqueiro que meti ao bolso anteriormente pensando que me faria falta. Meto o copo à boca poupando o liquido escasso.
O candeeiro que ilumina as traseiras é um daqueles de rua antigos fixo na parede. Acende-se quando as luzes da rua acendem e apaga-se quando a aurora rebenta no canto mais longínquo do céu. Tem uma redoma de vidro a envolver a lâmpada por baixo de um chapéu de metal enferrujado fazendo lembrar o fato chinês que vesti num carnaval longínquo da infância. A luz fraca e envelhecida envolve tudo num amarelo morno quase frio. A lâmpada deve estar ali desde sempre. A luz é tão antiga que a lâmpada é sem dúvida a original que ali colocaram com o candeeiro. Os quintais ao redor, há muito esquecidos deixam crescer ervas livremente. A nespereira está cada vez mais velha. As folhas que caíram por terra jazem num tapete sonoro debaixo dos pés. Os inquilinos anteriores, agora já mortos, devem ter brincado aqui em criança trepando à árvore para depois cuspirem os caroços para longe numa olimpíada secreta censurada vezes sem conta pela austeridade dos crescidos. Os portões partidos ou escancarados permitem uma circulação livre por todos quintais como se tudo fosse de todos. Mais ao longe os pássaros aconchegam-se num limoeiro resguardando-se para a noite e para os aguaceiros intermitentes.
Encho os pulmões de ar frio como se rebentassem os elásticos cá dentro expulsando o fumo do tabaco e o ar que se respira lá dentro. Alguém acende uma luz num andar superior. Estou resguardado pelo esqueleto metálico da escada de incêndio e ali permaneço quieto. A luz apaga-se. Um cão ladra no quintal de um outro prédio. Sinto-me invisível naquele momento mas depressa o frio da noite invade o meu lado sóbrio. De repente sinto-me exposto. Não quero estar ali. Ali são as traseiras, nem se quer é a rua principal, mas sinto-me exposto. De repente sinto-me observado. Nas traseiras do prédio em frente, numa pequena janela entreaberta um rosto aparece. E afinal, a luz que apagaram mais acima deixou um par de olhos de rapina observando as presas na erva alta. Pressinto o sussurro cuja voz entoará queixas na coscuvilhice do dia seguinte. Preciso do conforto de estar em lado nenhum. Volto a entrar em casa rapidamente limpando o sangue da ferida deixando a pele da casa encostada ao silêncio da noite. Espero que não infecte.
Escuro novamente. A dor cá dentro voltou. Será que uma dor apenas existe quando dói? Será que tudo é apenas aquilo que é naquele exacto momento? Será que um taxista o continua a ser mesmo quando está de folga? Será que uma dor continua a ser mesmo quando está adormecida e não nos dói?
A dor cá dentro voltou. Sinto que estou preso no tempo. Volto sempre ao mesmo sítio. Vivo em círculos contidos uns nos outros ou sobrepostos. Mais tarde ou mais cedo volto sempre ao mesmo sítio.
A dor voltou e não sei o que hei-de fazer. Dói. Volto à luz fluorescente. A frieza da realidade sob esta luz faz doer ainda mais. Sinto saudades. Umas saudades tremendas não sei bem do quê. Olho as maquilhagens esborratadas e o belo afunda-se nas imperfeições. O perfeito dá origem aos defeitos, à mentira, aos jogos, ao egoísmo. Todos procuram alguma coisa mas continuamos sempre à procura de uma fuga. De um refúgio.
Agarro na primeira garrafa que vejo e encho novamente o copo. Agarro na primeira mulher que olha para mim e peço-lhe um cigarro. Diz-me que só tem aquele. Faço-lhe sinal para cravar a amiga com um maço na mão. A amiga faz má cara olhando para mim, mas acede ao sorriso da outra. Sorrio em agradecimento e saio porta fora não se lembre ela de começar a conversar cobrando-me o cigarro. Não estou para aturar ninguém.
Novamente a penumbra. Pelo menos tudo aqui é mais bonito oculto na falta de luz, porque na penumbra o belo parece ainda mais belo e o feio torna-se aceitável.
Este é o refúgio ideal. O escuro, o álcool, os vícios todos sem moral ou culpa, as pessoas, a música, o sonho. O filme com a fotografia perfeita, a página do livro tão bem escrita que os cheiros nos entram nas narinas e os sabores se espalham nas bolinhas da língua.
Desço. A escada cheira a humidade. A madeira antiga lembra os inquilinos que já morreram. A memória dos mortos persiste no presente como se por ali andassem ocupando as mesmas divisões na rotina diária de sempre.
O pequeno botão preto colocado na ombreira da porta tem muda a voz da campainha. A luz fraca da escada sem abajur, envelhece ainda mais tudo ao seu redor. Bato à porta com os nós dos dedos. Alguém abre mas não vejo quem é. Está mais gente em casa. Não se vê ninguém. Os olhos habituam-se ao escuro. Uma vela aqui outra ali vai mostrando os vultos sentados nos sofás e no chão. Pouco a pouco apercebo-me dos sussurros e das conversas entre dentes... Uma chama de isqueiro acende um cigarro. Os rostos sobressaem da escuridão como morcegos cegos, a conversa torna-se alta e clara naquele breve momento. O borrão do cigarro torna-se incandescente e tudo retorna à calma com a baforada de fumo. Tropeço em alguém. Não me desvio a tempo de uma silhueta parada em pé no negrume. Faço-a entornar parte do copo sobre mim. Uma voz feminina pede-me desculpa numa tristeza profunda e apaixonante. Sacudo a mão mas o cheiro a álcool permanece invadindo-me as narinas. Sinto saudades do sabor do álcool e da morte lenta de um cigarro. Abre-se uma porta ao fundo do corredor depois do fim da sala. Foge uma luz branca lá de dentro. Fogem vozes, gargalhadas, tilintar de garrafas. Dirijo-me apressadamente aproveitando a réstia de luz enquanto a porta se fecha novamente. Alcanço-a quando esta se volta novamente a abrir. Peço um cigarro à figura em contra luz que sai. Lume, já agora. Entro. Semi cerro os olhos encadeado pela luz fluorescente que mostra tudo de forma tão crua. As vozes atropelam-se. Coloco o cigarro no canto da boca inclinando a cabeça para trás franzindo o sobrolho para evitar o fumo nos olhos ficando com as duas mãos livres. Agarro num copo quase limpo em cima da bancada e despejo-lhe o liquido de uma garrafa que me parece whisky. Cheiro-o confirmando que é. Levo o copo à boca sentindo o sabor puro do álcool que me arde por dentro. Minimizo o ardor travando o fumo do cigarro enchendo os pulmões. Atesto o copo e saio dali. De novo a escuridão. Fico quieto junto a uma parede bebendo e fumando enquanto os olhos se adaptam. Reparo agora na música que toca. Faltava isto. Este é o meu interior. Tenho as pernas cansadas e os pés dentro das botas gritam liberdade. À medida que o copo vai ficando vazio, as dores diminuem. Preciso de outro cigarro. Aventuro-me na penumbra novamente. Quem me dera encontrar outra vez a silhueta feminina. Quem me dera que ela fumasse. Quem me dera que me voltasse a pedir desculpa...
Junto a uma vela colocada em cima de uma pequena mesa está uma garrafa quase cheia segura por uma mão cujo braço se perde no escuro do sofá. Peço que me encha o copo depois de beber de um só trago o que ainda restava no fundo. Acedeu prontamente. De copo cheio parti dentro de mim à procura dela. Tornava-se agora mais fácil caminhar no escuro. A fluidez cambaleante do álcool deixava-me mais livre. Onde estaria? Sentada num canto, sem dúvida. Ou teria ido embora? Será que eu voltaria a ouvir a sua voz?
Desisto. Aqui dentro não está. Tento encontrar a saída das traseiras. À medida que ando os cheiros vão variando subtilmente como se a casa fosse um ser vivo que se mexe muito devagar. Cada recanto seu é uma parte de nós. Cada um de nós ou cada grupo que conversa ou bebe ou fuma em conjunto, é um órgão cuja função desconhecemos. Talvez um rim, um glândula viscosa, um pulmão... A casa respira. O movimento de pessoas que corre na correnteza das divisões cada vez mais cheias é o sangue contido dentro de si. Finalmente a porta que dá para o mundo. Mal se percebe a luz das traseiras a passar pelas frinchas. A porta abre-se e saio. Sou o sangue derramado da casa numa ferida que eu próprio abri. Fecho a porta atrás de mim estancando a hemorragia à flor da pele. Pouso o copo em cima de um vaso e acendo parte de um cigarro que encontrei ao lado de um isqueiro que meti ao bolso anteriormente pensando que me faria falta. Meto o copo à boca poupando o liquido escasso.
O candeeiro que ilumina as traseiras é um daqueles de rua antigos fixo na parede. Acende-se quando as luzes da rua acendem e apaga-se quando a aurora rebenta no canto mais longínquo do céu. Tem uma redoma de vidro a envolver a lâmpada por baixo de um chapéu de metal enferrujado fazendo lembrar o fato chinês que vesti num carnaval longínquo da infância. A luz fraca e envelhecida envolve tudo num amarelo morno quase frio. A lâmpada deve estar ali desde sempre. A luz é tão antiga que a lâmpada é sem dúvida a original que ali colocaram com o candeeiro. Os quintais ao redor, há muito esquecidos deixam crescer ervas livremente. A nespereira está cada vez mais velha. As folhas que caíram por terra jazem num tapete sonoro debaixo dos pés. Os inquilinos anteriores, agora já mortos, devem ter brincado aqui em criança trepando à árvore para depois cuspirem os caroços para longe numa olimpíada secreta censurada vezes sem conta pela austeridade dos crescidos. Os portões partidos ou escancarados permitem uma circulação livre por todos quintais como se tudo fosse de todos. Mais ao longe os pássaros aconchegam-se num limoeiro resguardando-se para a noite e para os aguaceiros intermitentes.
Encho os pulmões de ar frio como se rebentassem os elásticos cá dentro expulsando o fumo do tabaco e o ar que se respira lá dentro. Alguém acende uma luz num andar superior. Estou resguardado pelo esqueleto metálico da escada de incêndio e ali permaneço quieto. A luz apaga-se. Um cão ladra no quintal de um outro prédio. Sinto-me invisível naquele momento mas depressa o frio da noite invade o meu lado sóbrio. De repente sinto-me exposto. Não quero estar ali. Ali são as traseiras, nem se quer é a rua principal, mas sinto-me exposto. De repente sinto-me observado. Nas traseiras do prédio em frente, numa pequena janela entreaberta um rosto aparece. E afinal, a luz que apagaram mais acima deixou um par de olhos de rapina observando as presas na erva alta. Pressinto o sussurro cuja voz entoará queixas na coscuvilhice do dia seguinte. Preciso do conforto de estar em lado nenhum. Volto a entrar em casa rapidamente limpando o sangue da ferida deixando a pele da casa encostada ao silêncio da noite. Espero que não infecte.
Escuro novamente. A dor cá dentro voltou. Será que uma dor apenas existe quando dói? Será que tudo é apenas aquilo que é naquele exacto momento? Será que um taxista o continua a ser mesmo quando está de folga? Será que uma dor continua a ser mesmo quando está adormecida e não nos dói?
A dor cá dentro voltou. Sinto que estou preso no tempo. Volto sempre ao mesmo sítio. Vivo em círculos contidos uns nos outros ou sobrepostos. Mais tarde ou mais cedo volto sempre ao mesmo sítio.
A dor voltou e não sei o que hei-de fazer. Dói. Volto à luz fluorescente. A frieza da realidade sob esta luz faz doer ainda mais. Sinto saudades. Umas saudades tremendas não sei bem do quê. Olho as maquilhagens esborratadas e o belo afunda-se nas imperfeições. O perfeito dá origem aos defeitos, à mentira, aos jogos, ao egoísmo. Todos procuram alguma coisa mas continuamos sempre à procura de uma fuga. De um refúgio.
Agarro na primeira garrafa que vejo e encho novamente o copo. Agarro na primeira mulher que olha para mim e peço-lhe um cigarro. Diz-me que só tem aquele. Faço-lhe sinal para cravar a amiga com um maço na mão. A amiga faz má cara olhando para mim, mas acede ao sorriso da outra. Sorrio em agradecimento e saio porta fora não se lembre ela de começar a conversar cobrando-me o cigarro. Não estou para aturar ninguém.
Novamente a penumbra. Pelo menos tudo aqui é mais bonito oculto na falta de luz, porque na penumbra o belo parece ainda mais belo e o feio torna-se aceitável.
Este é o refúgio ideal. O escuro, o álcool, os vícios todos sem moral ou culpa, as pessoas, a música, o sonho. O filme com a fotografia perfeita, a página do livro tão bem escrita que os cheiros nos entram nas narinas e os sabores se espalham nas bolinhas da língua.
blog comments powered by Disqus